A República Contada às Crianças
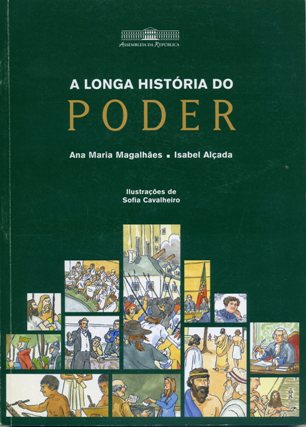
O parlamento português, preocupado com a formação política dos futuros eleitores, quis dar-lhes a conhecer em linguagem simples e acessível o espinhoso caminho percorrido desde as “trevas” da monarquia até à quase perfeição das instituições que nos governam. Para atingir esse fim, encomendou uma “História do Poder” a duas escritoras que já deram provas bastantes de saberem cativar a atenção do público juvenil, explicando em linguagem despida de subtilezas aquilo que outros só conseguem desfiar em longa e enfatuada prosa: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. A obra encontra-se à disposição do público numa edição da Assembleia da República, e constitui sem dúvida leitura instrutiva, não porque nos conte a sucessão dos factos históricos, mas porque nos revela nos seus silêncios, nas suas cautelas ou nas suas ínvias explicações, nos temas torneados ou esvaziados, as partes da sua história que a república portuguesa sente repugnância em enfrentar.
Nos capítulos que tratam do advento da república, dedica-se particular cuidado à inclinação política que se pretende incutir no leitor.
A transição do regime monárquico para o republicano é contada de modo a não deixar dúvidas no espírito da criança sobre a opção política que deve tomar. Para isso traça-se um feio retrato do rotativismo monárquico:
“Quando havia eleições, ora ganhava um, ora ganhava outro. Acontece que, nesta época, ainda só havia controlo dos votos em Lisboa e no Porto. No resto do país, sem vigilância, os senhores mais importantes da terra podiam alterar os resultados das eleições e fazer ganhar o seu partido, obrigando os empregados a votar em quem eles queriam ou enfiando nas caixas – as urnas – votos de pessoas que não existiam ou que já tinham morrido”.
Os pequenos leitores com sentido crítico apurado poderão perguntar para que se obrigavam pessoas a votar se depois não havia vigilância na contagem dos votos. Mas só mais tarde, se a curiosidade os trouxer de volta a este assunto, descobrirão todas as imprecisões desta narrativa. Tratando-se de fraude eleitoral, devia falar-se dela em toda a sua extensão, como todos os historiadores a conhecem, prolongando-se e alargando-se pelo regime republicano, em que se tornaram “uma fraude mais vasta e descarada do que tudo a que no passado se atrevera a monarquia” (Vasco Pulido Valente, A República Velha). Como não se menciona defeito algum do sistema eleitoral depois da proclamação da república, presumirão as nossas crianças que este é um dos pontos em que se distinguem os dois regimes, com vantagem no lado republicano. Mas além do erro essencial que consiste em colar a fraude eleitoral a um regime, encontra-se também a falta de rigor histórico na forma como se caracterizam os defeitos da eleição na monarquia. Muitas críticas foram apontadas às eleições na monarquia constitucional, principalmente o caciquismo ou influência dos notáveis locais, os erros no recenseamento ou as alterações de círculos. Mas um breve relance pelo mecanismo eleitoral dos últimos anos do regime monárquico mostra que havia vigilância na contagem dos votos em todos os círculos do país. Os escrutinadores eram escolhidos no próprio dia das eleições, no acto de abertura das urnas, devendo contar com a aprovação de larga maioria dos eleitores presentes: 3 / 4 dos eleitores na lei de 1896 (artº 46) e 5 / 6 dos eleitores na lei de 1901 (artº 47). Não se verificam, pois, razões para afirmar que só havia controlo dos votos em Lisboa e no Porto.
Transitando para o novo regime, passa a atitude das autoras para uma tão grande complacência, que mesmo as cenas mais violentas parecem destinadas a obter o bom acolhimento do leitor. Uma das primeiras preocupações é a legitimação do regime, que se despacha em poucas palavras:
“Em Maio de 1911 realizaram-se as primeiras eleições da República. Puderam votar todos os homens com mais de 21 anos, incluindo os analfabetos, desde que fossem chefes de família”.
Seria bom que assim tivesse acontecido. Mas todos esses puderam, quando muito, recensear-se. Como o governo provisório da república decidiu que não haveria eleição nos círculos em que não se apresentassem oposições, de nada valeu aos eleitores, na maior parte do país, recensearem-se, pois não chegaram a depositar o seu voto na urna. E quando voltou a haver eleições, em 1913, a lei eleitoral tinha mudado, os analfabetos estavam excluídos do recenseamento, o que reduziu o corpo dos eleitores para cerca de metade. Mas estas questões de pormenor não preocupam as doutrinadoras da nossa juventude, a quem também não assusta a falta de rigor na caracterização do regime. Passam adiante, sedentas de acção e de inovação:
“Enquanto preparava eleições, esse governo aprovou leis bastante revolucionárias para a época: separação entre a igreja e o estado, o que em Portugal foi uma total novidade. Isso significava, por exemplo, que os registos de casamento, nascimento e morte, que anteriormente eram feitos nas igrejas, passaram a fazer-se no registo civil”.
Confunde-se aqui o título da lei com o seu conteúdo. A lei da separação não estabeleceu separação nenhuma, mas sim subordinação da igreja ao estado, de uma forma tão desajeitada que fracassou em quase todos os seus artigos. Quanto ao registo civil, esse não era novidade em Portugal: já existia desde 1878, embora não tivesse carácter obrigatório.
“outra novidade verdadeiramente revolucionária foi estabelecer-se a igualdade entre marido e mulher no casamento, pois até então a mulher vivia subordinada ao marido e nada podia fazer sem autorização do marido”. Neste ponto, como nos outros, confunde-se o título ou a declaração inicial de uma lei com o seu conteúdo. Se a nova lei declarou que marido e mulher eram iguais, também estabeleceu obrigações que subordinavam a mulher ao homem, como a de viver no domicílio dele. Seja como for, terá havido algum progresso neste domínio, mas não a novidade revolucionária que as duas autoras imaginam. Se conhecessem a literatura feminista desta época poderiam desenganar-se lendo as palavras da chefe desse movimento, Ana de Castro Osório. Reconhecendo que a situação das mulheres portuguesas não é das piores, entre as suas congéneres europeias, esta pioneira do pensamento feminista afirmou sempre que a mulher casada gozava em Portugal uma larga autonomia, em contraste com o que as leis dispunham, pois os costumes se sobrepunham ao teor dos códigos, concedendo grandes liberdades ao sexo feminino (Anna de Castro Osorio, Às Mulheres Portuguesas. Lisboa, 1905).
Entre os temas mais dolorosos para o espírito republicano, uns são inteiramente ignorados, outros habilmente torneados, ocupando-se o espaço com informação irrelevante, e outros ainda, que não podem passar em silêncio, apresentam-se envoltos nas mais benévolas justificações. No primeiro caso estão as relações do regime com a imprensa. Nesta república não há jornais assaltados, jornais apreendidos ou jornalistas presos. No segundo caso estão as eleições. Tratando das de 1911, as únicas mencionadas, fala-se do número de deputados eleitos e da média de idades deles, ficando por dizer qual foi o resultado das eleições, quantos partidos estiveram representados no parlamento e quantos deputados elegeu cada um. Neste ponto não se faz mais do que seguir a tradição dos historiadores republicanos, que parecem alérgicos ao resultado das eleições de 1911, apesar do carácter legitimador que o mesmo poderia ter para o regime, dada a vitória expressiva do PRP (97,9%).
Tema a que é impossível fugir é o do voto das mulheres. Aí o peso da responsabilidade é atribuído ao ambiente internacional: “As mulheres, apesar de terem adquirido alguns direitos importantes com a 1ª República, continuaram sem direito de voto como, aliás, em todos os países da Europa e até nos Estados Unidos da América. Só a Finlândia tinha concedido direito de voto às mulheres em 1906”. Justificação que exige, da parte do leitor, uma certa elasticidade mental, pois terá de aceitar que estados como o Idaho, o Colorado, o Utah ou o Wyoming não fazem parte dos Estados Unidos da América, ou que as eleições locais na Noruega, na Suécia e na Dinamarca não devem ser contadas como pertencentes à família das eleições europeias.
Pela amostra que aqui apresentamos, poder-se-ão levantar legítimas objecções à forma como este livro, com a chancela da Assembleia da República, se propõe doutrinar a nossa juventude, dando-lhe tão singulares lições de história. Mas como impera a preocupação de economizar energias, sempre se poderá aproveitar o texto destas autoras, tão próximas do poder, como manual de doutrinação política. 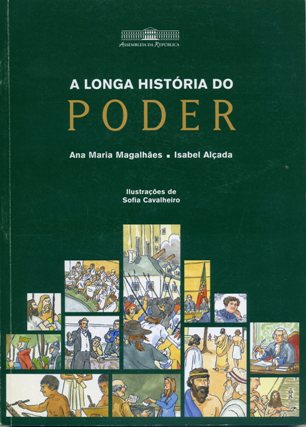
Carlos Bobone
